Carlo Ginzburg fala sobre seu novo livro, 'Medo, reverência, terror'

O historiador italiano Carlo Ginzburg discute nova coletânea de ensaios, nos quais analisa peças de propaganda e obras de arte políticas, e avalia a evolução da ‘micro-história’, campo de pesquisas que ele ajudou a difundir
Por Guilherme Freitas
O historiador italiano Carlo Ginzburg, de 74 anos, é um dos pioneiros de um ramo da disciplina conhecido como “micro-história”. O termo, popularizado numa coleção de livros editada por ele nos anos 1980, abrange pesquisas que, em vez da trajetória de nações ou de grandes eventos e seus protagonistas, abordam o passado por meio de figuras anônimas e fatos cotidianos, aprofundando-se em casos particulares para iluminar estruturas mais amplas da sociedade. Ginzburg ajudou a moldar o gênero em obras como “Os andarilhos do bem” (1966), sobre praticantes de um culto de fertilidade na Itália dos séculos XVI e XVII, e “O queijo e os vermes” (1976), no qual investigou a vida de um moleiro da região italiana de Friuli preso e executado sob acusação de heresia em 1599.
Nos quatro ensaios de seu novo livro, “Medo, reverência, terror” (Companhia das Letras), Ginzburg lança esse olhar sobre imagens que se tornaram ícones políticos, de quadros de Pablo Picasso e Jean-Louis David a propagandas de alistamento no Exército. Mas ele continua menos interessado nos protagonistas, sejam artistas ou chefes de Estado em guerra, do que no efeito das imagens sobre o público anônimo.
No célebre cartaz do Tio Sam com os dizeres “Eu quero você”, e em peças semelhantes de outros países na época da Primeira Guerra, Ginzburg encontra elementos (o olhar frontal, o dedo estendido em direção ao espectador) que remetem a representações medievais de Jesus como alguém que tudo vê. Na capa da primeira edição de “Leviatã” (1651), clássico do filósofo britânico Thomas Hobbes sobre a teoria do contrato social, o Estado é representado como um ser gigante cujo corpo é constituído de inúmeras pessoas, que olham com reverência para a figura formada por elas, sublinha o historiador. Ele mostra ainda como pinturas de Picasso e David, “Guernica” (1937) e “A morte de Marat” (1793), incorporam estruturas clássicas e signos religiosos para dar conta de fenômenos políticos de seu tempo (a Guerra Civil espanhola e os desdobramentos da Revolução Francesa).
Em entrevista por e-mail, Ginzburg analisa um elemento comum entre os ensaios: a ideia de que poderes políticos se apropriam da linguagem da religião para despertar reações de medo, reverência ou terror. Fala também sobre seus métodos de trabalho e analisa a evolução da micro-história nas últimas décadas.
Nos ensaios sobre “Leviatã”, de Hobbes, e cartazes de alistamento para a guerra como o do Tio Sam, você encontra em discursos e na iconografia política elementos que mostram poderes seculares “invadindo” terreno da religião. Como funciona esse fenômeno e quais são suas consequências?
A secularização — termo conveniente mas ambíguo — não é um fenômeno pacífico. É um fenômeno conflituoso e em andamento, que vem invadindo esferas da vida pública e privada dominadas pela religião há séculos ou milênios. (Pela necessidade de concisão, vamos assumir que o significado do termo “religião” é evidente, o que não é o caso.) As imagens são um exemplo desse tipo de invasão: por trás do cartaz do Tio Sam e de seu ancestral britânico, o cartaz de Lord Kitchener, podemos ver gestos que já foram atribuídos a Jesus. Hobbes chamava Leviatã, o símbolo do Estado, de “um Deus mortal”: uma imagem atemorizante. A luta contra ou a favor do secularismo continua diante de nossos olhos. Há poucos anos alguém falou em “retorno das religiões”; mas elas nunca haviam ido embora.

Por um lado, ambas se relacionavam diretamente com um contexto político imediato e podem ser pensadas como atos políticos. Por outro, tiveram impacto a longo prazo, sobre públicos muito distantes dos originais, no espaço e no tempo. Esse paradoxo aparente pode ser explicado pela análise da linguagem — o estilo, a iconografia — usada por David e Picasso, respectivamente. Nos dois casos, a linguagem tinha raízes (enfatizo o plural) longínquas e heterogêneas. Além disso, ambas nos confrontam com uma presença e uma ausência: a presença das vítimas (Marat, os habitantes de Guernica) e a ausência dos assassinos (Charlotte Corday, os aviões fascistas). Há muito que pensar sobre essas imagens. Costumo insistir na necessidade de “ler devagar” (a definição de Nietzsche para a filologia). Insisto também em “olhar devagar” para as imagens.
Em vez da “grande História”, voltada para o destino das nações e seus protagonistas poderosos, você costuma abordar figuras que, como diz sobre o moleiro Menocchio de “O queijo e os vermes” (1976), são “como nós”. Como a micro-história pode mudar a forma como se pensa a História?
É importante fazer um acréscimo: em “O queijo e os vermes” escrevi que Menocchio é “como nós", mas também “diferente de nós”. Um ancestral — mas também o fragmento de um mundo distante e opaco que foi destruído. Essa distância não pode ser superada pela empatia. Empatia, a identificação emocional com alguém, é um atalho que não funciona, pois pressupõe uma proximidade que não existe. O que precisamos é de filologia, num sentido amplo: precisamos aprender sobre uma linguagem (uma cultura) que é diferente da nossa. Mas concordo totalmente com o que você diz sobre história nacional. Eu quis abordar Menocchio, o moleiro da região de Friuli, com uma perspectiva diferente, ampla — mais ampla que Friuli, mais ampla que a Itália. Se não me engano, a recepção do livro confirma que consegui. A micro-história muda nossa percepção da História de muitas formas. Ela nos ensina a não desdenhar de nada (nem de possíveis temas, nem da escala de observação). Ensina também que a comparação, explícita ou implícita, é inevitável.
Você já citou como influências os historiadores franceses da “Annales”, que enfatizavam temas sociais, e o filósofo italiano Antonio Gramsci, principalmente as teses dele sobre o “subalterno”. Que impacto eles tiveram na sua concepção de micro-história?
Fui profundamente influenciado por um dos historiadores que criou a revista “Annales”: Marc Bloch. Li seu livro “Os reis taumaturgos” (1924) quando tinha 20 anos. Foi uma revelação. Eu não imaginava que um livro de História podia focar em um tema tão marginal como o poder de curar escrófula [tuberculose linfática que causava, entre outros sintomas, infecções de pele], atribuído aos reis na Inglaterra e na França. Nem que um tema tão marginal pudesse revelar algo profundo e crucial como as atitudes enraizadas no povo em relação ao poder real. Mas quando li Bloch eu já estava lendo os “Cadernos do cárcere”, de Gramsci [escritos entre 1929 e 1935 e publicados nos anos 1950], pensador que foi para mim, como para muita gente ao redor do planeta, fundamental. Então procurei traços de culturas subalternas na obra de Bloch — pessoas anônimas, homens e mulheres que vieram de longe para se submeter ao poder de cura dos reis. Em retrospecto, eu me vejo como um estudante participando do diálogo contínuo entre História e Antropologia, que atraiu muitos historiadores nos anos 1960 e 1970, na Itália e em outras partes do mundo. Mais ou menos na mesma época li “Rebeldes primitivos”, de Eric Hobsbawn, assim como o ensaio que ele publicou na revista “Società”, do Partido Comunista Italiano, intitulado “Por uma história das classes subalternas” (não sei dizer se esse texto foi publicado em outras línguas). Era uma leitura dos cadernos de Gramsci pelo prisma da antropologia social britânica. Fiquei muito impressionado. Mais tarde, meu diálogo interno com antropólogos envolveu sobretudo Claude Lévi-Strauss.
Aby Warburg, pensador da história das imagens que buscava relações entre épocas distintas, é uma fonte importante para seus ensaios sobre iconografia política e para sua obra em geral. Que caminhos Warburg pode abrir para um historiador?
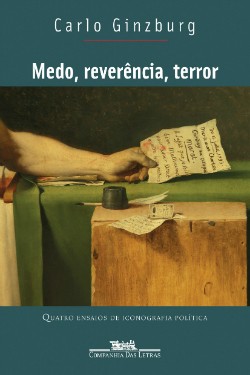
A literatura também está muito presente no seu trabalho. Os ensaios de “Medo, reverência, terror” citam de Proust a Orwell. E a estrutura de seus livros tem características narrativas. O que você aprendeu sobre pesquisa histórica com a literatura?
O romance e a poesia nos transformam em habitantes temporários de mundos ficcionais, ao mesmo tempo próximos e diferentes do mundo real. Para historiadores, a ficção é um alimento e também um desafio. Mas o desafio também pode funcionar ao inverso: “Vou ser o maior historiador do século XIX”, disse Balzac. Nossa abordagem do mundo real está saturada de ficção, e a dos ficcionistas, de História. As duas dimensões estão relacionadas de forma intrincada, por isso devemos estar sempre atentos às fronteiras que existem entre elas. Historiadores abordam esses essas questões de forma mais técnica — mas somos todos confrontados com elas, a cada instante.
Quais foram as maiores mudanças no campo da historiografia desde que você publicou seu primeiro livro, “Os andarilhos do bem” (1966)?
Muita coisa, claro. Comecei a aprender o ofício de historiador em um mundo dominado pelo confronto entre Estados Unidos e União Soviética e pela descolonização. A União Soviética desapareceu, novos atores se tornaram protagonistas. Instituições europeias foram criadas, mas a Europa é mais marginal hoje do que naquela época. A chamada “globalização”, processo antigo, entrou em ritmo frenético. Historiadores tentam lidar com esses desafios usando ferramentas diversas. A micro-história, ou seja, a história analítica, é uma delas. Hoje o diálogo entre antropólogos e historiadores, que inspirou meu primeiro livro, parece fora de moda. Eu ainda o considero promissor.